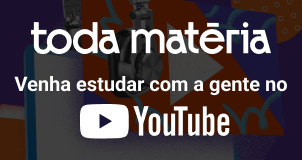Exercícios sobre o realismo no Brasil na literatura (com gabarito explicado)
O Realismo no Brasil marcou profundamente a literatura do século XIX, trazendo um olhar crítico sobre a sociedade, a política e os costumes da época. Autores como Machado de Assis, Raul Pompeia e Júlia Lopes de Almeida deram vida a narrativas que exploram a psicologia das personagens, a ironia e a denúncia das contradições sociais.
Confira os exercícios comentados com gabarito explicado. Teste seus conhecimentos e revise os principais aspectos dessa importante fase da literatura brasileira.
Questão 1
Pois que havia de fazer a maioria, senão admirar a fidelidade de um autor, que não esquece nada, e não oculta nada? Porque a nova poética é isto, e só chegará à perfeição no dia em que nos disser o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha. Quanto à ação em si, e os episódios que a esmaltam, foram um dos atrativos d’ O Crime do Padre Amaro, e o maior deles; tinham o mérito do pomo defeso. E tudo isso, saindo das mãos de um homem de talento, produziu o sucesso da obra.
ASSIS, Machado. Disponível em: http://machado.mec.gov.br/index.php. Acesso em: Ago. 2025.
Nesse contexto, a crítica de Machado de Assis evidencia:
a) a valorização do detalhamento extremo como recurso literário fundamental para a verossimilhança.
b) a defesa do romance de tese, característico do Realismo, como modelo narrativo perfeito.
c) a ironia diante do excesso de descrição, apontando o risco de transformar a literatura em mera catalogação de objetos.
d) a rejeição completa da obra de Eça de Queirós por seu conteúdo polêmico e estilo descritivo.
e) a crítica ao uso do “pomo defeso” como elemento de atração, por considerá-lo ineficaz para o público.
O comentário de Machado de Assis é marcado pela ironia ao se referir ao detalhamento excessivo da estética realista, sugerindo que, levada ao extremo, a descrição poderia chegar ao ponto de contar os fios de um lenço ou de um esfregão, o que seria absurdo para a função literária. Assim, embora reconheça o talento de Eça de Queirós e o mérito narrativo de O Crime do Padre Amaro, Machado critica a tendência de transformar a literatura em mera catalogação de objetos, esvaziando-a de profundidade estética. Portanto, a alternativa correta é C.
Questão 2
— Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo da batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas.
ASSIS, Machado de. Quincas Borba. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira/INL, 1976.
No excerto, Machado de Assis apresenta uma reflexão aparentemente lógica sobre a guerra, defendendo-a como mecanismo de conservação da vida. Considerando o contexto do Realismo brasileiro, o excerto revela:
a) uma defesa direta do instinto de sobrevivência humano, típico da estética romântica.
b) uma análise crítica da condição humana, marcada pela ironia e pelo desmascaramento social.
c) a valorização do idealismo e das emoções como condutores da ação literária.
d) uma concepção fantasiosa da guerra, voltada ao enaltecimento de heróis nacionais.
e) uma reflexão moralista que busca ensinar valores positivos ao leitor, como na prosa romântica.
O texto apresenta uma reflexão racional que, embora aparente justificar a guerra, usa ironia para criticar a lógica utilitarista e revelar contradições da sociedade. Essa abordagem crítica, sem idealizações e voltada ao exame da realidade humana, é característica do Realismo brasileiro. Portanto, a alternativa correta é B.
Questão 3
É importante destacar que Machado de Assis precisava manter-se dentro do sistema intelectual e da elite do século XIX. Dessa forma, ele poderia realizar seu trabalho tranquilamente, conseguir por exemplo redigir em um jornal sem possuir nível superior, exigência de sua época. Era justamente de dentro do sistema que ele pretendia criticá-lo, portanto, toda sutileza e cuidado eram necessários. Sem dúvida, essa sutileza, marcada pela ironia e ambiguidade, que se tornou marca da escrita de Machado, é encontrada em todas as suas crônicas, contos e romances.
PINHEIRO, Marta Passos. MACHADO DE ASSIS CRONISTA: “BONS DIAS!” NO AVESSO DA REPÚBLICA.
No excerto, destaca-se a posição de Machado de Assis dentro da elite intelectual do século XIX, o que exigia sutileza e ironia para criticar a sociedade sem comprometer sua atuação nos espaços de prestígio cultural, como os jornais. Essa característica é marcante no Realismo brasileiro, movimento que se distancia do idealismo romântico e busca analisar criticamente a realidade social, política e moral do país.
Nesse contexto, as crônicas de Machado de Assis, em diálogo com o Realismo brasileiro, caracterizam-se por:
a) retratar heróis idealizados, que representam os valores da elite com devoção patriótica.
b) apresentar críticas diretas e panfletárias às instituições sociais, sem uso de ironia.
c) revelar contradições da sociedade por meio da sutileza, ambiguidade e crítica velada.
d) exaltar os sentimentos individuais como expressão máxima da liberdade humana.
e) defender transformações sociais por meio de narrativas carregadas de emoção e lirismo.
Machado de Assis, mesmo atuando no seio da elite intelectual, desenvolveu uma escrita marcada pela ironia e ambiguidade para criticar os valores sociais, políticos e morais de sua época sem romper com o sistema que lhe dava espaço. Essa abordagem crítica, distante do sentimentalismo romântico, é típica do Realismo brasileiro. Logo, a alternativa correta é C.
Questão 4
— Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam às mulheres; fazem-nas responsáveis por tudo — como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos! Nesses livros tenho sempre medo do fim; revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas, e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas! hipócritas! Leve o seu livro; não me torne a trazer desses romances. Basta-me o nosso, para eu ter medo do fim.
ALMEIDA, Júlia Lopes. Disponível em: http://dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000169.pdf. Acesso em: 22 ago. 2025.
Júlia Lopes de Almeida foi uma figura singular dentro do Realismo brasileiro. A escritora, de acordo com a história, foi também uma das responsáveis pela fundação da ABL (Academia Brasileira de Letras), no entanto, em função do patriarcalismo da época, sua cadeira, em fato, foi ocupada por seu marido. Sua obra, assim, abarca percepções críticas de seu tempo e do próprio projeto literário do Realismo, ainda que crítico, marcado por questões do patriarcado.
Considerando o contexto do Realismo e da produção literária feminina no período, a crítica presente no excerto pode ser entendida como:
a) uma recusa à objetividade realista, defendendo o retorno às idealizações românticas das figuras femininas.
b) uma contestação à parcialidade moral do olhar realista, que denuncia vícios sociais, mas perpetua desigualdades de gênero.
c) uma tentativa de substituir o Realismo pela estética naturalista, mais comprometida com a denúncia social.
d) um elogio à neutralidade dos romancistas, que, apesar de críticos, mantêm imparcialidade quanto às questões morais.
e) uma defesa do lirismo subjetivo como alternativa estética às análises críticas da realidade social.
O excerto revela que, apesar de crítico, o Realismo brasileiro muitas vezes manteve a perspectiva patriarcal, retratando mulheres como responsáveis pelas tragédias narrativas. Júlia Lopes de Almeida questiona essa parcialidade moral, expondo a hipocrisia de uma literatura que se propõe a analisar a sociedade, mas não rompe integralmente com seus preconceitos. Assim, a alternativa correta é B.
Questão 5
Sérgio, o protagonista do romance, toma conhecimento do Ateneu a partir de festividades que presencia como espectador neste cosmo. Assim sendo, é preciso investir nas condições que permitem fazê-lo crer nos valores atribuídos a estas festividades e, extensivamente, ao Ateneu. O reconhecimento que o menino faz do espaço escolar como um lugar privilegiado é efeito de um encantamento socialmente produzido. Ou seja, o "deslumbramento" (p. 28) produzido em Sérgio pelas solenidades no colégio pode ser compreendido como um tipo de crença que o faz apostar suas fichas neste jogo a ser jogado com estratégias comuns, no entanto, a um "cálculo pobre de uma experiência de dez anos" (p. 31) (de idade)
MARCHI, C. SANTOS, T. O Ateneu: uma análise de mecanismos disciplinares no romance de Raul Pompeia.
O Realismo, movimento literário do final do século XIX, caracteriza-se pela análise crítica da sociedade, pela representação objetiva da realidade e pela observação psicológica das personagens.
Considerando o excerto e essas características, pode-se afirmar que a obra O Ateneu:
a) apresenta o colégio como um espaço idealizado, reforçando valores românticos de fraternidade e heroísmo.
b) revela o contraste entre as ilusões da infância e a reflexão crítica do narrador adulto, típica do Realismo.
c) foca na exaltação de sentimentos exagerados e subjetivos, distanciando-se da análise racional da experiência.
d) propõe uma visão fantasiosa do ambiente escolar, na qual o sonho se sobrepõe às observações objetivas.
e) descreve os acontecimentos de forma alegórica, priorizando símbolos e abstrações sobre a crítica social.
No trecho de O Ateneu, o Realismo se manifesta na forma como o narrador adulto revisita suas impressões infantis, revelando que o encanto inicial com o colégio era fruto de ilusões socialmente produzidas e de uma percepção ainda ingênua da realidade.
O contraste entre o deslumbramento de Sérgio e a análise crítica posterior evidencia a preocupação realista com a observação objetiva, a reflexão psicológica das personagens e a crítica das convenções sociais. Assim, a obra não se limita a exaltar sentimentos ou ideais, como faria o Romantismo, mas busca mostrar como experiências e expectativas são moldadas pelas estruturas sociais, oferecendo uma visão mais complexa e racional do mundo escolar e das relações humanas.
Questão 6
— Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo; era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava; receei ficar mais tempo, e enlouquecer. — Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado... Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos... Continuei a vestir-me. Subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me... Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia...
— Diga.
— Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento... Não, não são capazes de adivinhar.
— Mas, diga, diga.
— Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e... Não lhes digo nada; o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros; enfim, sabe que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando; no fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir...
Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.
ASSIS, Machado. O espelho. In: Obra completa, 1992, vol. II, p. 345-352.
No trecho, o narrador descreve minuciosamente suas ações e percepções diante do espelho durante o período de solidão. Esse detalhamento evidencia características próprias do Realismo, que se manifesta principalmente:
a) na idealização da experiência subjetiva, destacando sentimentos puros e heroicos da personagem.
b) na exaltação do protagonista como herói épico, enfatizando feitos extraordinários e grandiosos.
c) na exploração de elementos fantásticos e sobrenaturais para representar a personalidade do narrador.
d) na priorização de símbolos e metáforas sobre os acontecimentos concretos, deslocando a narrativa da realidade.
e) na atenção à psicologia do indivíduo, à observação objetiva do comportamento e à relação entre consciência e realidade.
A alternativa E é correta porque evidencia as principais características do Realismo presentes no trecho: o narrador descreve com precisão suas ações e percepções diante do espelho, permitindo uma análise psicológica detalhada de seu comportamento. A narrativa se concentra na observação da realidade e na reflexão sobre si mesmo, mostrando como a consciência do indivíduo interage com o mundo concreto à sua volta.
Questão 7
Não é fácil apontar a razão para reunirmos, sob o conceito de “realismo”, os cinco romances mais frequentemente canonizados de Machado. O uso corriqueiro desse substantivo, por referir-se a uma suposta proximidade entre obras de arte e a “realidade” que lhes serve de ambiente, não sobrevive ao teste nem mesmo de uma crítica filosófica branda, pois já está provado que tanto aquilo que é tomado como “real”, quanto aquilo que se enxerga em uma obra de arte como “correspondente à” ou “próximo da Realidade”, varia no tempo. Ao invés, portanto, de o utilizarmos como um conceito meta-histórica e transculturalmente válido, parece mais adequado empregarmos a palavra “realismo” em referência a um conjunto específico de textos (e obras de arte) de culturas ocidentais distintas, a maior parte pertencente ao século XIX; mais precisamente, em referência a um conjunto de obras textuais e artísticas que documentam uma preocupação inédita com sua própria proximidade em relação à “Realidade”, tanto no que diz respeito às suas descrições exaustivas do cotidiano social, às vezes beirando a obsessão (Balzac, por exemplo, almejava se tornar “o secretário da sociedade francesa”), quanto no que tange à incerteza sobre a própria possibilidade prática da empreitada (a posição ocupada por Flaubert e sua obra dentro de um quadro histórico maior).
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Realismo na Literatura Brasileira. Traduzido por: Nelson Shuchmacher Endebo. Revista do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFOP. ARTEFILOSOFIA, n. 25, dez. 2018, p. 4-11.
Etimologicamente, o termo “Realismo” remete à ideia de representação da realidade, mas, na literatura brasileira do século XIX, essa noção assume um sentido mais complexo.
Considerando o texto e as características do Realismo literário, pode-se afirmar que o movimento:
a) se limita à reprodução literal do mundo físico, sem se preocupar com a subjetividade ou crítica social.
b) busca apenas a idealização moral e estética da realidade, como uma extensão do Romantismo.
c) envolve a preocupação com a aproximação da realidade social e psicológica, sem ignorar a complexidade e a crítica das experiências humanas.
d) se restringe à criação de universos imaginários que pouco dialogam com a vida cotidiana.
e) reduz a experiência humana a episódios heroicos, enfatizando ações grandiosas e excepcionais.
A alternativa C é correta porque capta a essência do Realismo literário, relacionando etimologicamente o termo à “realidade”, mas expandindo seu sentido: não se trata apenas de reproduzir o mundo físico, mas de representar a vida social e psicológica com fidelidade crítica. O movimento preocupa-se com a observação minuciosa do cotidiano, a análise da conduta humana e a reflexão sobre as contradições da sociedade, sem idealizações românticas nem recursos fantásticos.
Questão 8
Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros; e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí mas, como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim, apontou com especialidade alguns personagens célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula, etc., uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades odiosas, e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente:
— A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério.
— Gracioso, muito gracioso! exclamou Crispim Soares levantando as mãos ao céu.
Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante; mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo; declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era "caso de matraca". Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara, e da matriz;—ou por meio de matraca.
ASSIS, Machado. O Alienista. Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf.
O trecho apresenta a visão do alienista sobre a loucura e sua tentativa de ampliar os limites desse conceito, utilizando exemplos históricos para justificar sua ideia. A reação do boticário revela não apenas admiração, mas também uma crítica velada à extravagância da proposta.
Com base no texto, é correto afirmar que Machado de Assis utiliza a narrativa para:
a) Exaltar a genialidade do alienista, defendendo a ampliação do conceito de loucura como um avanço científico inquestionável.
b) Criticar a sociedade de Itaguaí, representada pelo boticário, por não compreender as ideias inovadoras do alienista.
c) Satirizar os limites entre razão e loucura, mostrando como conceitos científicos podem ser relativizados e utilizados de forma arbitrária.
d) Descrever fielmente os métodos científicos da época, ressaltando a importância da observação histórica para o estudo da mente humana.
e) Destacar a modéstia do boticário como virtude superior à ousadia intelectual do alienista, reforçando a moralidade tradicional.
Machado de Assis, em O Alienista, satiriza os conceitos de razão e loucura, mostrando como podem ser manipulados de forma arbitrária e exagerada, revelando uma crítica social e filosófica por meio do humor e da ironia. Assim, ele estabelece uma crítica ao cientificismo e postivismo da época, que embasava teorias de segregação social.
Saiba mais em: Realismo no Brasil.
LUIS, Rodrigo. Exercícios sobre o realismo no Brasil na literatura (com gabarito explicado). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-o-realismo-no-brasil-na-literatura-com-gabarito-explicado/. Acesso em: