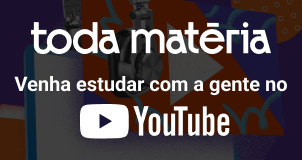Exercícios sobre lógica na filosofia (com gabarito respondido)
Confira estes exercícios de lógica aplicados à filosofia, acompanhados de gabarito comentado, que exploram desde os princípios clássicos até abordagens contemporâneas.
Ao praticar, você não apenas reforçará seu conhecimento teórico, mas também desenvolverá habilidades essenciais para argumentar com precisão e identificar falácias, aprimorando sua compreensão da verdade e do raciocínio crítico.
Questão 1
“A Lógica é a ciência e arte do raciocínio. O raciocínio é uma forma de processamento simbólico de informações que visa tornar explícitas formas de conhecimento que antes estavam implícitas. Enquanto ciência, esta possui uma metodologia própria, que prioriza as manifestações do raciocínio que surgem no âmbito de contextos linguísticos organizados. Enquanto arte, busca a modelagem de sistemas formais que representem fielmente formas de raciocínio ainda não captadas em toda a sua plenitude. O estudo, conhecimento e cultivo da Lógica revelam ferramentas bem importantes para uma evolução cognitiva de todo ser humano que queira ser realmente livre, não condicionado pelo medo e por crenças nocivas constantemente propaladas por diversos meios de comunicação da maioria das sociedades, tanto do presente como de várias eras passadas. Tal evolução cognitiva conduz à clareza no pensar, o que torna possível a prática de uma constante depuração do que não é verdadeiro para cada um, o que é essencial para um contato cada vez maior com a própria Verdade” (BUCHSBAUM, A. Lógica Geral. 2006.).
Tendo em vista o texto, o estudo e o cultivo da Lógica servem fundamentalmente para:
A) que nos libertemos dos medos e de crenças nocivas propagadas pela sociedade;
B) que sejamos capazes de conduzir o pensamento de forma clara, a fim de termos um contato maior com a própria Verdade;
C) que sejamos capazes de modelar os sistemas formais que representam fielmente as formas de raciocínio;
D) processar de forma simbólica informações implícitas;
O trecho descreve que o estudo da Lógica leva à evolução cognitiva, que, por sua vez, “conduz à clareza no pensar” e torna possível a “prática de uma constante depuração do que não é verdadeiro”, algo fundamental para o contato com a verdade.
A alternativa a) remete aos benefícios do desenvolvimento cognitivo humano que se vale do estudo da Lógica, não exatamente à finalidade do próprio estudo.
Já a alternativa c) descreve o papel da Lógica enquanto arte (sua forma de condução) e não o seu propósito final.
A alternativa d) descreve o que é o raciocínio, algo que está na base da Lógica, mas não o objetivo de seu estudo.
Questão 2
“Há coisas universais e coisas particulares, e denomino universal isso cuja natureza é a de ser afirmada de vários sujeitos, e de particular o que não pode tal, por exemplo, homem é um termo universal, e Calias um termo singular ou particular. Então é necessário que a proposição de que tal coisa pertence ou não pertence a um sujeito se aplique tanto ao universal como ao particular.
Se, por conseguinte, enunciarmos universalmente de um universal, por um lado, que uma coisa lhe pertence; e, por outro lado, que não lhe pertence, teremos aí duas proposições contrárias”. (ARISTÓTELES. Organon).
Considerando o que Aristóteles diz, em qual alternativa há um exemplo de enunciado universal de um universal:
A) Algum animal tem memória;
B) O homem é um sujeito;
C) Calias é homem;
D) Todo homem é um animal racional;
Um enunciado universal é uma proposição genérica que recebe os termos todo ou nenhum. Mas, de acordo com a teoria aristotélica, um termo também pode ser universal. Termos universais são aqueles que podem ser “afirmados de vários sujeitos”, como, por exemplo, o termo “homem” ou o termo “animal”.
Quando a questão pede que seja identificado um “enunciado universal de um universal”, ela se refere a uma proposição que seja universal em sua estrutura (que contenha a partícula “todo” ou “nenhum”) e que remeta a um termo universal. Logo, a única alternativa que se enquadra nessa categoria é a d).
A alternativa a) é uma proposição particular, pois utiliza o termo “algum”.
A alternativa b) traz um termo universal (homem), mas não é um enunciado universal.
A alternativa c) não é um enunciado universal de um universal, pois a estrutura da proposição não é universal, nem o enunciado se refere a um termo universal. A frase aponta para um sujeito (termo) particular (Calias).
Questão 3
“Deus […] que possui todas as altas perfeições de que o nosso espírito pode ter alguma ideia, sem, no entanto, compreendê-las, que não está sujeito a carência alguma e que nada tem de todas as coisas que assinalam alguma imperfeição. Daí é bastante evidente que ele não pode ser enganador, posto que é manifesto pela luz natural que o engano depende de alguma carência”. (DESCARTES, Meditação Terceira In: CID, R.; SEGUNDO, L. H. M. 2020, p. 26).
A alternativa que aponta corretamente a conclusão concebida por Descartes no trecho acima é:
A) Deus não está sujeito a carências;
B) nosso espírito tem algumas perfeições;
C) o engano depende de alguma carências;
D) Deus não é enganador;
De acordo com as palavras de Descartes, sendo o engano dependente da carência e Deus um ser que não possui carência ou imperfeições, Deus não pode ser enganador (conclusão).
Questão 4
"O princípio de verificação é um princípio tornado próprio pelos neopositivistas do Círculo de Viena para separar as asserções sensatas das ciências empíricas das asserções insensatas das várias metafísicas ou também das fés religiosas.
O princípio é, portanto, um princípio de significância que tende a demarcar a linguagem sensata da linguagem insensata. Na formulação de Waismann ele soa: ʼO sentido de uma proposição é o método de sua verificaçãoʼ". (REALE, 2006, p. 119).
De acordo com o texto, sobre o princípio de verificação, pode-se dizer que:
A) somente proposições que podem ser demonstradas empiricamente têm sentido;
B) proposições do tipo “Deus existe” tem mais sentido do que proposições como “chove lá fora”;
C) asserções sensatas são proposições que não podem ser provadas, por isso, sem sentido;
D) a Metafísica formula proposições com significado, trazendo melhor informações sobre o mundo;
O princípio de verificação, de acordo com o texto, é um critério que distingue proposições sensatas de insensatas. São proposições sensatas, ou seja, que possuem significado, as que podem ser verificadas empírica ou factualmente. Assim, as afirmações das ciências empíricas são entendidas como sensatas e as metafísicas ou religiosas como insensatas, uma vez que não podem ser provadas.
Questão 5
“Se alguém disser ‘brasileiro é argentino’, você provavelmente vai pensar que essa pessoa está louca ou muito mal informada, pois ‘é óbvio que brasileiro é brasileiro, argentino é argentino e não se deve misturar as coisas’.
Temos, assim, um enunciado A é A”. (COTRIM, 2016, p.105).
O princípio que torna óbvia a ideia “brasileiro é brasileiro” denomina-se:
A) princípio do terceiro excluído;
B) princípio de não contradição;
C) princípio de identidade;
D) princípio de verificação;
Dentro da Lógica Clássica há certos princípios que regem a relação entre os termos e as proposições, um desses princípios é o de identidade. O princípio de identidade afirma que toda coisa é idêntica a si mesma, sendo isso representado pela fórmula “A é A”.
A frase da questão, “brasileiro é brasileiro”, ilustra esse princípio, pois o sujeito da frase (o brasileiro) é o mesmo que seu predicado.
Questão 6
“O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não é “proposições filosóficas”, mas é tornar proposições claras. Cumpre à filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos, antes como que turvos e distintos”. (WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus, 4.112).
De acordo com o trecho, para Wittgenstein, o principal papel da Filosofia é:
A) desenvolver novas teorias sobre a existência;
B) formular proposições filosóficas que explicam o mundo;
C) retomar a busca metafísica, tornando as ideias sobre a natureza das coisas mais claras;
D) esclarecer o funcionamento das proposições com ajuda da lógica;
Para o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951), especificamente em sua obra Tractatus Logico-Philosophicus, não cabe à Filosofia o papel de formular proposições (criar teorias) acerca das “relações entre as coisas”, como faz as ciências. A Filosofia é vista como uma atividade que investiga e analisa as proposições (a linguagem), a fim de elucidá-las com o uso da lógica.
Com Wittgenstein a análise da linguagem ganha destaque, sendo colocada como objeto central das investigações da Filosofia.
Questão 7
“Mas, afinal, qual a proposta de Popper? De saída, sempre fiel à perspectiva racionalista, ele acredita que, para ser científica, uma teoria precisa ser criticável ou falsificável empiricamente – isto é, precisa ser uma teoria que possa ter sua falsidade atestada por evidências, testes empíricos. Isso é o que chama de critério lógico da falsificabilidade: se um enunciado não for logicamente falsificável dessa maneira, não poderá ser considerado científico”.
Sobre o critério lógico da falsificabilidade de Karl Popper, pode-se dizer que:
A) tem como objetivo comprovar a veracidade de uma teoria por meio de evidências lógicas e empíricas;
B) tem como objetivo testar logicamente um enunciado ou teoria e identificar seu caráter científico;
C) torna uma teoria impossível de ser submetida a teste empírico;
D) assegura a universalidade das teorias científicas, uma vez que se aplicam a toda a realidade;
Ao contrário dos neopositivistas do Círculo de Viena, que defendiam o critério da verificação como forma de separar asserções sensatas (ciências empíricas) das insensatas (metafísica e crenças religiosas), Karl Popper propôs como critério a falseabilidade, ou falsificabilidade, para essa demarcação.
Para o filósofo, “todo conhecimento científico é hipotético e conjectural”, por isso, é passível de ser falseado/ refutado.
Popper trabalha considerando a possibilidade das exceções ou anomalias que surgem no campo das ciências, preservando a testabilidade, própria das teorias científicas.
Leia também O que é lógica e continue praticando com exercícios de filosofia para o 1º ano do ensino médio (com gabarito).
Referências Bibliográficas
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo : Martins Fontes, 2007.
BUCHSBAUM, A. Lógica Geral. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2006.
CID, R.; SEGUNDO, L. H. M. (Org.). Problemas Filosóficos: uma Introdução à Filosofia. Pelotas: NEPFIL Online, 2020.
COTRIM, G.; FERNANDES, M. Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2016.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
NEVES FILHO, E. F.; RUI, M. L. Elementos de Lógica. Pelotas: NEPFIL online, 2016.
OROZCO, M. R. Wittgenstein: O Tractatus e a possibilidade das Ciências Sociais, In: CARVALHO, M. et al. (Org.). Filosofia da Linguagem e da Lógica. Coleção XVI Encontro ANPOF. São Paulo : ANPOF, 2015.
REALE, G; ANTISERI, D. História da Filosofia: do humanismo a Descartes, v. 3. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004.
REALE, G; ANTISERI, D. História da Filosofia: de Freud à atualidade. v. 7. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2006.
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (SEESP). Rede São Paulo de Formação Docente Cursos de Especialização para o quadro do Magistério da SEESP Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2012.
AGUENA, Anita. Exercícios sobre lógica na filosofia (com gabarito respondido). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-logica-na-filosofia-com-gabarito-respondido/. Acesso em: