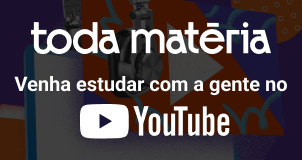Exercícios sobre literatura negra (com gabarito explicado)
Confira a seguir os exercícios comentados sobre o tema da Literatura Negra. Os exercícios abordam diversos autores e conceitos que abordaram a temática tanto no passado quanto nos dias atuais. Teste seus conhecimentos e continue estudando.
Questão 1
Rolézim
Para Matheus, Alan e Gleison
Acordei tava ligado o maçarico! Sem neurose, não era nem nove da manhã e a minha caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltração na sala, tava tudo seco. Só ficou as mancha: a santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta.
Tinha dois conto em cima da mesa, que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais um e oitenta, já garantia pelo menos uma passagem, só precisava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda é que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda pra comprar um varejo. Bagulho era investir os dois conto no pão, divulgar um café e partir pra praia de barriga forrada. O que não dava era pra ficar fritando dentro de casa. Calote pra nós é lixo, tu tá ligado, o desenrolo é forte.
[...]
MARTINS, Geovani. Rolézin. In: O sol na cabeça, 2018.
No trecho do conto “Rolézim”, de Geovani Martins, o uso de marcas linguísticas específicas e de um olhar subjetivo sobre o cotidiano estabelece uma estética própria, capaz de tensionar os limites entre norma culta e linguagem popular.
Nesse contexto, a adoção da linguagem pelo narrador-personagem revela, principalmente:
a) o desejo do autor de traduzir para o público culto a fala de jovens periféricos, criando uma caricatura linguística que marca a distância entre os universos sociais.
b) a tentativa de universalizar o conflito do personagem, utilizando-se de regionalismos pouco compreensíveis como forma de evitar o clichê narrativo.
c) a afirmação de uma identidade cultural periférica, por meio da valorização da oralidade e do vocabulário próprio de um grupo social marginalizado.
d) a distorção proposital da norma culta para denunciar a precariedade educacional e linguística da juventude das favelas.
e) o uso da linguagem como barreira estilística, que limita a empatia do leitor e distancia a ficção da realidade social retratada.
A narrativa de Giovani Martins é reconhecida por sua valorização da linguagem da periferia, reproduzindo com autenticidade a oralidade, os vocábulos e as expressões típicas da juventude de comunidades urbanas. O uso dessa linguagem não é apenas estilístico, mas político e identitário, afirmando uma cultura marginalizada e legitimando-a como matéria literária. Ao narrar em primeira pessoa, o personagem expressa seu cotidiano, seus desejos e suas limitações de forma potente e representativa.
Questão 2
Texto I
Biliza, como ele e a irmã, viera da roça para a cidade. (...) Trabalhou muito, juntou algum dinheiro com o propósito de voltar em casa para buscar o pai, a mãe e os irmãos. Um dia, não se sabe como, a caixinha de dinheiro que ela guardava no fundo do armário sumiu. Sumiram as economias, o sacrifício de anos e anos. Biliza se desesperou. Ninguém entrava em seu quarto a não ser, de vez em quando, o filho da patroa. Sim, ele era o único que entrava lá, às vezes, quando dormia com ela. Só podia ter sido ele a tirar o dinheiro por brincadeira, para assustá-la talvez. A patroa não gostou da suspeita que caiu sobre o seu filho. Quanto a dormir com a empregada, tudo bem. Ela mesma havia pedido ao marido que estimulasse a brincadeira, que incentivasse o filho à investida. O moço namorava firme uma colega de infância, ia casar em breve e a empregada Biliza era tão limpa e parecia tão ardente. Biliza não encontrou o dinheiro e nunca mais viu o filho da patroa. (...)
EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio.
Texto II
"[...] a maioria da população de baixa renda é preta ou parda e pobre, sem condições dignas de sobrevivência. As estatísticas atuais apresentam um abismo entre a população branca e a população negra / parda e as políticas públicas até então implementadas não são suficientes para dar respostas eficazes a essa conjuntura. As desigualdades raciais existem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao divulgar Pesquisa Mensal de Emprego, em novembro de 2006, aponta, segundo o critério de cor ou raça, que há mais brancos do que negros nas universidades públicas brasileiras, há mais negros do que brancos fora das escolas de ensino básico. Por exemplo, enquanto 45,9% dos brancos haviam cursado, pelo menos, o nível médio completo, apenas 28,5% de pretos e pardos o faziam. Em se tratando do rendimento médio da população, os brancos ganham R$ 60,00 a mais que os pretos e pardos. Com o pouco acesso à educação, a pessoa negra continua exercendo profissões ou ofícios poucos remunerados, de menor valor social e simbólico. Neste sentido, a desigualdade , logo racial, vem se mantendo de geração a geração. Os espaços sociais e de poder ao seguimento negro / pardo, que deveriam ser alargados, poucos são conquistados, em pleno século XXI."
SILVA, A. M. S. Ponciá Vicêncio, memórias do eu rasurado. In.: DEALTRY, G.; LEMOS, M.; CHIARELLI, S. (Org.). Alguma prosa ensaios sobre literatura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007, p. 73-83. Disponível em: //www.letras.ufmg.br/literafro/29-critica-de-autores-feminios/191-poncia-vicencio-memorias-do-eu-rasurado-critica#sdfootnote1anc.
Os dois textos abordam, a partir de registros diferentes — literário e ensaístico —, aspectos estruturais da desigualdade social e racial no Brasil.
Com base na leitura dos textos, é correto afirmar que:
a) a narrativa literária do Texto I representa um caso isolado de exploração, que contrasta com os dados objetivos do Texto II, que tratam de desigualdades amplamente superadas pelas políticas públicas atuais.
b) ambos os textos revelam a naturalização da desigualdade racial no Brasil, evidenciada na exploração do corpo da personagem Biliza e na permanência da marginalização socioeconômica de negros e pardos no século XXI.
c) o Texto I valoriza a mobilidade social por meio do esforço individual, enquanto o Texto II denuncia o fracasso dos negros em alcançar o ensino superior por conta da falta de motivação pessoal.
d) o Texto II critica a inexistência de desigualdades raciais nas estatísticas brasileiras, enquanto o Texto I retrata a ascensão social da personagem Biliza como exemplo de superação das barreiras sociais.
e) a análise do Texto II invalida a representação do Texto I, pois as estatísticas revelam que os casos de exploração como o de Biliza são fictícios e não representam a realidade brasileira atual.
Ambos os textos tratam da naturalização da desigualdade racial no Brasil. No Texto I, isso aparece na forma de violência simbólica e sexual contra a empregada Biliza, cuja denúncia é desconsiderada, e cuja exploração é naturalizada pela patroa, que inclusive incentiva o filho a “dormir com a empregada”. No Texto II, essas dinâmicas são abordadas de forma crítica, a partir de dados estatísticos que comprovam a manutenção das desigualdades sociais e raciais, demonstrando que os espaços de poder e prestígio continuam em sua maioria inacessíveis à população negra e parda.
Questão 3
[...]
A educação que recebera, de mimos e vigilâncias, era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo, com exemplos, claramente... O bonde vinha cheio. Olhou todos aqueles homens e mulheres... Não haveria um talvez, entre toda aquela gente de ambos os sexos, que não fosse indiferente à sua desgraça... Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro! O que era preciso, tanto a ela como às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil Dona Margarida, para se defender de Cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam...
Chegaram em casa; Joaquim ainda não tinha vindo. Dona Margarida relatou a entrevista, por entre o choro e os soluços da filha e da mãe.
Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com um grande acento de desespero:
— Mamãe! Mamãe!
— Que é minha filha?
— Nós não somos nada nesta vida.
BARRETO, Lima. Clara dos Anjos.
Clara dos Anjos é um texto de Lima Barreto que aborda os dilemas do colorismo no Brasil. A partir da leitura do trecho e de seus conhecimentos a respeito da proposta do autor, é possível afirmar que o romance Clara dos Anjos realiza:
a) uma celebração da cultura popular e da simplicidade da vida suburbana carioca, representando a ascensão da classe média como símbolo de progresso nacional.
b) uma defesa da naturalização das diferenças sociais entre brancos e negros, reforçando o papel tradicional da mulher submissa diante das convenções morais da época.
c) uma crítica à educação repressiva e ineficaz, associada às problemáticas das mulheres pobre e periférica vítimas de um sistema que as inferioriza e abandona.
d) uma representação alegórica da moral vitoriana, que enaltece o sofrimento feminino como instrumento de elevação espiritual e submissão desejável à família patriarcal.
e) uma recusa das tensões sociais brasileiras, ao construir personagens femininas fortes que sempre conseguem superar os preconceitos raciais e alcançar ascensão moral e econômica.
O trecho evidencia a crítica feita por Lima Barreto à educação doméstica ineficaz, centrada em mimos e repressão, que falha em preparar Clara para enfrentar a realidade social e a violência simbólica contra mulheres negras e pobres. A personagem tem consciência tardia de sua condição, percebe-se como “nada” dentro de um mundo que a marginaliza, e reconhece a falta de preparo para resistir. O texto propõe uma reflexão crítica sobre a estrutura social brasileira, especialmente a condição da mulher negra.
Questão 4
Texto I
O dispositivo de racialidade nos permite compreender a construção das alteridades durante o colonialismo europeu. Com especial atenção à alteridade negra, Carneiro argumenta que esse dispositivo funda uma ontologia da diferença ao promover uma divisão entre o Eu e o Outro, na qual o Eu se afirma a partir da negação e da inferiorização do Outro (Carneiro, 2023, p.31). Nessa construção, o Eu se afirma como naturalmente superior e se coloca como paradigma de humanidade e ideal de Ser. Assim, o Outro – no caso brasileiro, pessoas negras e indígenas – passa a ser tanto considerado irracional, incapaz de alcançar a moralidade, a cultura e a civilização, quanto enclausurado no estatuto do não-ser. Por isso, o dispositivo de racialidade, segundo Carneiro (2023, p. 31), “também produz uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor da pele o fator de identificação do normal, e a brancura será sua representação”. Dessa dualidade resulta a desumanização do Outro que legitima as políticas estatais brasileiras de extermínio daqueles considerados indesejáveis (como a Lei da Vadiagem e as políticas imigratórias no período pós-abolição) em prol da segurança, desenvolvimento e vida da brancura.
SANTANA, Vinícius. Dispositivo de racialidade: a filosofia antirracista de Sueli Carneiro. Disponível em: https://novosestudos.com.br/dispositivo-de-racialidade-a-filosofia-antirracista-de-sueli-carneiro/#gsc.tab=0. Acesso em: jul. 2025.
Texto II
Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa.1 Interrompeu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia somente estas únicas palavras: – “Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!” Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova.
– Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!
– Meu senhor! gemia o outro.
– Cala a boca, besta! replicava o vergalho.
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, – o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele.
– É, sim, nhonhô.
– Fez-te alguma coisa?
– É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber.
– Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
– Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado!
Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido; aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres; é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo; mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino, e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, – transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto!
ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. In: Obra completa, vol. 1. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1992, p. 581-2.
1O antigo Largo do Valongo, situado no Rio de Janeiro entre os bairros da Saúde e da Gamboa, foi durante longa data não só porto de chegada dos “pretos novos” – africanos recém-escravizados –, mas também local onde o tráfico se realizava “às escâncaras” como afirma o autor na citada crônica de 1 de outubro de 1876. O local escolhido para a cena é, portanto, carregado de significações e remete ao rebaixamento social de africanos e seus descendentes.
Sueli Carneiro, ao discutir o conceito de dispositivo de racialidade, aponta que a lógica colonial estabeleceu um sistema binário entre o “Eu” e o “Outro”, em que a branquitude se afirma como modelo de humanidade, relegando pessoas negras a uma posição de inferioridade, desumanização e não pertencimento. No trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis apresenta a cena em que Prudêncio, negro liberto, castiga um escravizado de forma cruel.
Considerando o conceito de dispositivo de racialidade e o trecho do romance, é correto afirmar que:
a) a cena representa uma exceção à lógica colonial, pois mostra que, uma vez liberto, o negro se liberta também do sistema de opressão e é capaz de exercer empatia e solidariedade racial.
b) Machado de Assis denuncia o processo de interiorização da lógica escravocrata pelo próprio negro, revelando como o dispositivo de racialidade se perpetua mesmo entre aqueles que dele foram vítimas.
c) a escolha de Prudêncio em comprar um escravo indica o sucesso do projeto de ascensão social dos libertos, reforçando o valor do mérito individual e da superação das marcas raciais.
d) o narrador lamenta profundamente o destino de Prudêncio, rompendo com o tom irônico característico da obra e condenando explicitamente a violência praticada por ex-escravizados.
e) a cena demonstra que o preconceito racial é algo do passado, já superado na época em que Machado escreve, e que resta apenas como memória individual do narrador.
A cena é exemplar da crítica de Machado de Assis à perversidade do sistema escravocrata, ao mostrar como Prudêncio reproduz a violência da qual foi vítima, como forma de compensação simbólica. Isso dialoga diretamente com o conceito de dispositivo de racialidade proposto por Carneiro, pois evidencia como a lógica de inferiorização do negro é internalizada, perpetuada e naturalizada, mesmo entre os próprios negros. O dispositivo de racialidade não se dissolve com a abolição formal da escravidão; ele se inscreve nas subjetividades e nas relações sociais, mantendo ativa a lógica da exclusão e da opressão.
Questão 5
“Cadernos Negros” é a nova aquisição do acervo da Biblioteca Brasiliana
A coleção completa do periódico coordenado pelo Quilombhoje, composta de 45 publicações, é um dos importantes marcos da autoria negra no País
[...]
Iniciada em 1978, com a publicação de poemas de Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues, Cuti e outros autores, a série Cadernos Negros se consolidou como uma das mais importantes coletâneas de divulgação da literatura negro-brasileira no País.
A professora Ligia, que também é especialista nas relações étnico-raciais com a literatura brasileira, explica que “nós não temos, no Brasil, uma revista literária que tenha durado tanto, atravessado mais de quatro décadas, e isso é devido ao esforço, perseverança e o comprometimento de um grupo de escritores”, destaca a docente.
Em 1980, criou-se o Quilombhoje, coletivo que, além de cuidar das edições dos Cadernos e das reflexões teóricas entre literatura e racialidade, cânone e identidade, também deveria contribuir com o debate político e social sobre a situação dos afro-descendentes no Brasil. Com quase 50 anos de história, o Quilombhoje é um dos grupos que mais contribuiram profundamente com o movimento negro brasileiro, e seus Cadernos Negros não apenas conseguiram dar visibilidade às vozes historicamente negligenciadas, mas também atuaram na criação de um diferente imaginário coletivo, no qual as subjetividades negras são agentes de sua própria trajetória.
Ventura, responsável pela reunião da coleção que hoje se encontra na BBM, comenta sobre a relevância das 45 publicações que integram agora o acervo da biblioteca. “A importância da existência e persistência da série Cadernos Negros, em uma sociedade ainda marcadamente racista, torna-se uma forma de não só criar oportunidades para escritoras(es) negras(os), mas também garantir que o legado de suas experiências, conquistas e produções seja passado adiante, contribuindo para uma memória cultural negra nas letras brasileiras.”
[...]
JORNAL DA USP. “Cadernos Negros” é a nova aquisição do acervo da Biblioteca Brasiliana. Publicado em: 06 de setembro de 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/cadernodecultura/cadernos-negros-e-nova-aquisicao-do-acervo-da-biblioteca-brasiliana/. Acesso em: jul. 2025.
A série Cadernos Negros, organizada desde 1978 pelo coletivo Quilombhoje, representa um marco na literatura brasileira ao reunir e divulgar produções de autoras e autores negros, criando espaços de afirmação identitária, memória coletiva e crítica ao racismo estrutural.
Considerando essas informações, a atuação do coletivo Quilombhoje e a publicação dos Cadernos Negros podem ser compreendidas como:
a) uma iniciativa voltada exclusivamente ao resgate de formas literárias tradicionais africanas, a fim de valorizar o folclore nacional e consolidar um retorno às origens culturais perdidas pela diáspora.
b) um movimento literário marginal que, ao evitar confrontos com o cânone brasileiro, busca manter sua autenticidade por meio do isolamento estético e temático de suas produções.
c) uma estratégia de reconfiguração do espaço literário nacional, que confronta a exclusão histórica de escritores(as) negros(as) e contribui para a construção de um imaginário em que suas vozes têm centralidade.
d) um exemplo de como a literatura pode se desvincular das questões sociais e políticas, concentrando-se na experiência estética e na promoção da neutralidade artística como resistência ao racismo.
e) uma prática de resistência que, por meio da repetição dos modelos formais da literatura branca dominante, busca assimilação cultural como meio de inserção dos autores negros no cânone.
O texto evidencia que os Cadernos Negros são uma ação literária e política que visa enfrentar a exclusão de autores negros do sistema literário nacional. Mais do que apenas publicar, o coletivo produz um novo imaginário, no qual sujeitos negros são protagonistas de suas experiências e histórias. Isso é parte de uma reconfiguração do cânone, que envolve disputar espaços simbólicos e construir novas referências de pertencimento, memória e valorização cultural.
Questão 6
Geni Guimarães, uma escritora negra
Em sua apresentação a Leite do peito, Ricardo Ramos afirma que Geni Guimarães, “mais que um acréscimo, nos traz inegável ampliação, em sua prosa de múltiplas aberturas. Na visão feminina, indispensável. No acento popular, tão pessoal quanto impressivo. Nos temas em baixo-relevo, de povo, agravado pelo dia-a-dia rural. Afinal em termos de linguagem, na fala que flui, com a dignidade da oratura.”
Leite do peito é um livro que aponta várias manifestações de racismo e as dificuldades enfrentadas pelos negros devido à cor da pele. Logo nas primeiras páginas, a pequena protagonista começa a perceber que ser negro é ser diferente: ela conclui que não precisaria chamar seu irmãozinho de Jesus, já que o menino era negro. Em outra cena, passada na escola, a personagem dá-se conta do gesto de nojo de sua professora que, sendo beijada pela menina negra, apressa-se em rapidamente enxugar o rosto. Mais adiante, a autora toca em um ponto crucial: a criança se decepciona ao observar que a história dos escravos apresentada pela instituição escolar, não coincide com a versão contada pela Vó Rosária. A narrativa dos contos que compõem Leite do peito segue esse acento de dor e de rememoração crítica do passado da criança. O livro marca-se, fortemente, pelo tom memorialístico que caracteriza certa narrativa feminina afrodescendente no Brasil, a exemplo de Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus. Trata-se de uma ficção que revira as entranhas de uma memória coletiva e individual, a fim de trazer a público situações de preconceito e opressão racial, presentes no cotidiano dos afro-brasileiros.
[...]
GUEDES, Daniela. Geni Guimarães, uma escritora negra.
O livro Leite do peito, de Geni Guimarães, articula episódios de racismo e exclusão vividos por uma criança negra com uma narrativa marcada pela memória afetiva e crítica. Nesse contexto, a metáfora "leite do peito", que dá título ao livro, pode ser interpretada como:
a) a figura simbólica da nutrição afetiva e cultural que sustenta a memória negra, articulando experiências pessoais com a herança coletiva.
b) uma representação da dependência afetiva da protagonista em relação à mãe, reforçando um ideal de submissão feminina e familiar.
c) uma evocação literal da infância e da maternidade, com foco exclusivo nas experiências biológicas da autora enquanto mulher negra.
d) a denúncia da precariedade da infância negra, centrada na escassez de alimento e nos impactos físicos da pobreza no ambiente rural.
e) uma crítica direta à história oficial, que substitui o papel das mães negras pela literatura canônica, sem recorrer à subjetividade individual.
O título Leite do peito funciona como metáfora da nutrição emocional, cultural e histórica transmitida de geração em geração, especialmente pelas mulheres negras mais velhas (como a avó Rosária). O “leite” é aquilo que alimenta não só o corpo, mas também a identidade e a memória, tanto individual (a infância da narradora) quanto coletiva (a experiência histórica do povo negro). A autora usa a linguagem afetiva para expressar uma resistência simbólica, baseada na oralidade, nas vivências e nos saberes marginalizados pela história oficial.
Questão 7
Em Maio
Já não há mais razão para chamar as lembranças
e mostrá-las ao povo
em maio.
Em maio sopram ventos desatados
por mãos de mando, turvam o sentido
do que sonhamos.
Em maio uma tal senhora Liberdade se alvoroça,
e desce às praças das bocas entreabertas
e começa:
"Outrora, nas senzalas, os senhores..."
Mas a Liberdade que desce à praça
nos meados de maio,
pedindo rumores,
É uma senhora esquálida, seca, desvalida
e nada sabe de nossa vida.
A Liberdade que sei é uma menina sem jeito,
vem montada no ombro dos moleques
e se esconde
no peito, em fogo, dos que jamais irão
à praça.
Na praça estão os fracos, os velhos, os decadentes
e seu grito: “bendita Liberdade!"
E ela sorri e se orgulha, de verdade,
do muito que tem feito!
Oswaldo de Camargo.
No poema "Em Maio", Oswaldo de Camargo revisita o mês em que oficialmente se comemora a abolição da escravidão no Brasil, confrontando a memória institucionalizada com a vivência concreta da população negra.
A oposição entre as duas imagens de liberdade, no poema, sugere que:
a) a abolição da escravidão representou uma ruptura real com o passado opressor, sendo reconhecida unanimemente pela população negra como símbolo de conquista.
b) o poeta reforça o valor simbólico da comemoração oficial ao apresentar a liberdade como herança deixada pelos abolicionistas nas praças públicas.
c) a celebração do 13 de maio revela a integração bem-sucedida dos descendentes de africanos na vida política do país, com reconhecimento pleno de seus direitos sociais e culturais.
d) a personagem “senhora Liberdade” representa o poder libertador do Estado brasileiro, responsável por garantir a igualdade social por meio da legislação abolicionista.
e) a liberdade comemorada oficialmente em maio é uma construção vazia, distante da realidade dos negros, cuja luta por emancipação segue viva fora das celebrações públicas.
O poema expressa desconfiança e ironia em relação à comemoração oficial da liberdade no mês de maio, denunciando o vazio simbólico da abolição formal de 1888, que não se traduziu em liberdade real para a população negra. A “senhora Liberdade” é esquelética, desvalida, e nada sabe da vida dos negros, enquanto a verdadeira liberdade é uma “menina sem jeito” que habita o corpo e a luta dos marginalizados, invisibilizados nas celebrações públicas. Assim, o poema propõe uma releitura crítica da memória histórica oficial.
Saiba mais em Literatura Negra: entenda o que é, sua origem e principais autores.
LUIS, Rodrigo. Exercícios sobre literatura negra (com gabarito explicado). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-literatura-negra-com-gabarito-explicado/. Acesso em: