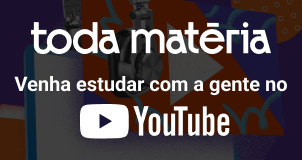Exercícios sobre filosofia medieval (com gabarito explicado)
Os exercícios a seguir, acompanhados de gabarito explicado, têm como objetivo ajudar o estudante a compreender os principais temas da filosofia medieval — como a relação entre fé e razão, a ética, a vontade, a prova da existência de Deus e a busca pelo conhecimento. A proposta é desenvolver uma leitura crítica que permita perceber a complexidade e a diversidade da filosofia medieval, superando visões simplistas ou preconceituosas sobre o tema.
Questão 1
“A filosofia medieval corresponde ao longo período histórico que vai do final do helenismo (sécs. IV-V) até o Renascimento e o início do pensamento moderno (final do séc. XV e séc. XVI), aproximadamente dez séculos, portanto. Na verdade, contudo, a maior parte da produção filosófica da Idade Média, o que realmente conhecemos como “filosofia medieval”, está concentrada entre os sécs. XII e XIV, período do surgimento e desenvolvimento da escolástica.
Durante muito tempo a Idade Média foi conhecida como a “Idade das Trevas”, um período de obscurantismo e ideias retrógradas, marcado pelo atraso econômico e político do feudalismo, pelas guerras religiosas, pela “peste negra” e pelo monopólio restritivo da Igreja nos campos da educação e da cultura”. (MARCONDES D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
Essa forma pejorativa de se referir ao período Medieval é uma consequência:
A) da falta de produção intelectual durante o período Medieval, que foi quase inexistente e de pouca importância ao pensamento Ocidental;
B) das ideias dos pensadores do período Moderno que rebaixavam a produção intelectual Medieval numa tentativa de legitimar a própria produção;
C) do caos gerado pela produção Medieval se comparada ao razão Iluminista, pois o Medievo, além de marcado pela religião cristã, não se preocupava em formar ideias com uma estrutura lógica;
D) da perseguição da Igreja Católica a todos os pensadores que não se alinhavam às suas doutrinas, o que levou a inexistência da Filosofia propriamente dita;
A comparação da Idade Média como sendo uma “Idade das Trevas” deriva de ideias desenvolvidas tanto na Renascença quanto no período Moderno. Muitos acreditavam que a Idade Média representava um hiato com um declínio intelectual e cultural, e utilizam certos fatos históricos (a peste negra, os conflitos religiosos e a influência da religião no desenvolvimento sociocultural), como argumento para essa crença.
Contudo, pesquisas sobre o período nos mostram o equívoco da veiculação dessa ideia. Se bem observarmos, a história do período Medieval, bem como sua filosofia, não se restringe a apenas um lugar, a um povo ou a uma duração de tempo. Como diz De Libera (1998, p. 8): “são várias durações: uma duração latina, uma grega, uma árabo-muçulmana, uma judaica” e, com efeito, são vários cenários e povos que participam da construção do pensamento Medieval.
Tanto em territórios do Islã quanto sob domínio cristão, teve uma rica produção intelectual e científica.
Em terras cristãs temos a vasta produção intelectual de São Tomás de Aquino, o desenvolvimento no campo da poesia com o trovadorismo e, na área da estética, o desenvolvimento da arte gótica.
Do outro lado, nos territórios do Islã, temos nomes como Averróis, Avicena, Maimônides, que além de contribuírem com desenvolvimento da Filosofia, contribuíram nos avanços das ciências e da medicina.
A medicina é bom exemplo que refuta a ideia de que o Medievo foi um período de atraso para o desenvolvimento humano. A revolução que tivemos no campo cirúrgico, com o uso de anestésicos naturais e instrumentos específicos para os procedimentos, derivou das pesquisas e escritos de Abulcasis, médico andaluz do século XI.
Questão 2
“A mesma filosofia, por apoiar-se unicamente na razão humana, não logrou nunca alcançar a verdade, ou alcançou apenas fragmentariamente e mesclada com muitos erros, ‘fruto dos demônios’ O cristianismo, por outro lado, diziam, possui a verdade absoluta, por que o Logos, que é a mesma Razão divina, veio ao mundo por Cristo. Disto segue necessariamente que o cristianismo está incomensuravelmente acima da filosofia grega [...]” (QUASTEN, apud: VASCONCELLOS, 2014, p.18-19).
O trecho acima estabelece uma hierarquia do conhecimento. De acordo com ele, a razão pela qual o cristianismo é superior à filosofia grega se deve:
A) ao fato do cristianismo valorizar o conhecimento empírico, ao contrário da filosofia grega, que era puramente teórica;
B) ao fato da filosofia ser influenciada, exclusivamente, por demônios, enquanto o cristianismo ser influenciado por Deus;
C) ao fato da filosofia se apoiar na especulação humana e o cristianismo ter por base a revelação divina;
D) ao fato da filosofia cometer equívocos por ter seu estudo limitado a busca de verdades baseadas em mitos;
No texto, Quasten afirma que a filosofia se apoia “unicamente na razão humana” e, por isso, só alcança a verdade de forma parcial, podendo também cometer equívocos, uma vez que a razão humana é limitada. Em contrapartida, o cristianismo tem a condição de atingir a “verdade absoluta”, pois esta é fruto da revelação divina (do logos que veio ao mundo através de Cristo).
Questão 3
”Quando o homem procura viver retamente valendo-se unicamente de suas próprias forças, sem ajuda da graça divina libertadora, então ele é vencido pelo pecado; mas o homem tem o poder de crer em sua livre vontade e no seu poder libertador, acolhendo a graça”. (AGOSTINHO, apud: REALE, 1990, p. 457).
A partir da perspectiva da vontade, Agostinho faz um contraponto a ideia socrática, pois demonstra que:
A) apesar do conhecimento do bem, o homem pode vir a escolher agir de forma má;
B) o conhecimento do bem é a única condição que se necessita na prática da virtude;
C) a vontade é uma faculdade que tem o poder de conduzir o homem ao caminho mais correto;
D) a razão humana é um ferramenta que pode libertar o homem do pecado original;
No trecho, Agostinho enfatiza a fragilidade da vontade humana e de seu conhecimento, diante da ausência da graça divina. Para ele, o ser humano por si só não tem força de resistir ao pecado, mesmo estando ciente do caminho correto ou do que é bem. Isso ocorre porque a vontade é uma faculdade separada da razão e que pode vir a agir de forma independente.
Isso contrapõe a visão de Sócrates, que acreditava que bastava o homem direcionar seu intelecto para o conhecimento da verdade, que este agiria em conformidade com o bem (de forma virtuosa).
Questão 4
“Ora, sendo próprio da razão dirigir o desejo - principalmente enquanto informada pela lei de Deus -, então, se o desejo se volta para qualquer bem naturalmente desejado de acordo com a regra da razão, esse desejo será reto e virtuoso; será, porém, pecaminoso se ultrapassa essa regra ou se não chega a atingi-la. Por exemplo, o desejo de conhecer é natural ao homem, e tender ao conhecimento de acordo com os ditames da reta razão é virtuoso e adorável: ir além dessa regra é o pecado das curiositas, ficar aquém dela é o pecado da negligência.
Ora, entre as coisas que o homem naturalmente deseja está a excelência. Pois é natural ao homem - e também a toda realidade - desejar a perfeição no bem desejado, que consiste numa certa excelência. Tender a essa excelência segundo a regra da razão divinamente informada será um apetite reto e é próprio da virtude da magnanimidade, segundo o que diz o Apóstolo (II Coríntios 10, 13): "Quanto a nós, não nos gloriemos sem medida", como que por uma regra que nos é estranha, "mas segundo a regra que Deus nos deu como medida". A deficiência em relação a essa regra é o vício da pusilanimidade: o excesso é o vício da soberba [superbia], que, como o próprio nome indica, é superar [superbire] a própria medida no desejo de superioridade”. (AQUINO, T. Os Sete Pecados Capitais. Tradução de Luiz Jean Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.79-80).
No trecho acima temos elementos do pensamento ético de São Tomás, principalmente, no que se refere ao que ele considera como vício e virtude. Tal concepção tomasiana tem como referencial o pensamento ético de:
A) Epicuro, que apontava para existência virtude como mediania de vícios por excesso e falta;
B) Platão, que apontava que a virtude almejada pelo homem era o conhecimento do bem;
C) Epicuro, que apontava como virtude uma vida voltada para os prazeres do corpo;
D) Aristóteles, que apresentava a virtude como justa medida entre dois vícios possíveis;
No trecho acima, vemos a tentativa de São Tomás de Aquino de aliar a doutrina cristã do pecado e as teorias éticas de Aristóteles.
Aquino associa o pecado à ideia de vícios por falta e por excesso, um conceitual que ele adota do pensamento aristotélico. Para ambos, a virtude nada mais seria do que a justa-medida (justo meio) de dois possíveis vícios.
Na visão tomasiana, Deus orienta a razão humana a desejar aquilo que é bom e virtuoso. Contudo, essa busca deve ser feita com moderação, uma vez que essa medida não vem desacompanhada. Se o homem ultrapassa a medida do que lhe é um bem (o desejo de conhecer), corre o risco de pecar ao desenvolver curiosidade em demasia (vício por excesso). Também corre o risco de negligenciar o conhecimento (vício por falta), ao deixar de agir.
O mesmo se dá com as demais virtudes e vícios, incluíndo os sete pecado capitais.
Questão 5
“Inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos; portanto, inutilmente se faz por infinitos o que se pode fazer por finitos; ora, todas as coisas que podem ser salvas por princípios infinitos, podem ser salvas por princípios finitos, como Empédocles que postulou princípios finitos [e assim] salvou todas as aparências e manifestações que Anaxágoras salvou por princípios infinitos”. (OCKHAM, BORGES, 2022, apud: p. 132).
O trecho acima é a base textual para um famoso princípio desenvolvido por um filósofo do Medievo. Tal princípio ficou conhecido como:
A) Princípio de Identidade;
B) Princípio da Causalidade;
C) Navalha de Ockham;
D) Não Contradição;
O trecho acima é citação da obra Comentário à Física de Aristóteles de Guilherme Ockham, da qual se extrai a Navalha de Ockham.
Guilherme Ockham (1287-1349) foi um filósofo inglês da ordem dos franciscanos, que ficou consagrado pela aplicação de tal princípio, também conhecido como princípio da parcimônia.
Esse princípio é uma ferramenta metodológica que prega a economia de entidades no esclarecimento de uma teoria.
Sua premissa principal pode ser resumida na ideia de que “a pluralidade nunca deve ser postulada sem necessidade” (BORGES, 2022, p. 133).
Com isso, Ockham está apontando que explicações mais simples, que se baseiam em princípios finitos (como as de Empédocles) são preferíveis na elaboração de uma demonstração às que postulam princípios infinitos (como faz Anaxágoras). A complexidade destes últimos não só obscurecem a explicação, mas exigem uma infinidade de outros princípios para se sustentar.
Questão 6
“Este Quinto Elemento, a esfera celeste, tem que ser necessariamente transitório, assim como o movimento, ou eterno, como afirma o oponente. Se as esferas são transitórias, então Deus é o seu Criador, pois tudo quanto existe após a inexistência pressupõe um agente, sendo absurdo considerar que a coisa gerou a si mesma. Todavia, se esta esfera não cessou nem cessará de se mover, com movimento perpétuo e eterno, segue-se necessariamente, de acordo com as proposições precedentes, que o agente deste movimento perdurável não é um corpo, nem força em um corpo, é Deus (Bendito seja o Seu nome!)”. (MAIMONIDES, M. Guia dos Perplexos, Livro II, capítulo 2).
Uma das preocupações das filosofias medievais que procuravam conciliar as doutrinas religiosas com a especulação filosófica, era provar a existência de Deus. No trecho acima está o argumento de Moisés Maimônides, filósofo judeu do século XII. A partir do exposto, pode-se dizer que a prova da existência de Deus:
A) só é possível se considerarmos que o universo foi criado a partir do nada;
B) está fundamentada na ideia de que as esferas celestes são transitórias em sua existência;
C) depende da existência de esferas que se movem eternamente para se confirmar;
D) independente do modelo criacionista ou da eternidade do universo, pode ser confirmada;
Moisés Maimônides (1338-1204) foi um filósofo judeu, nascido em Córdoba, que ficou consagrado pelo tentativa de estabelecer um diálogo entre as crenças judaicas e a filosofia, principalmente, derivada de Aristóteles.
Entre as ideias fundamentais de seu pensamento está a tentativa de demonstrar a existência de Deus. Em um movimento contrário de outros teóricos que precisavam provar ou escolher um modelo a ser defendido para, a partir dele, provar a existência de Deus, Maimônides procura mostrar que a existência divina é um fato, independente de ser aceita a criação ou a eternidade do universo. O trecho acima é um exemplo disso.
Em resumo, para o filósofo, se o universo (ou esferas celestes) veio a existir depois de um período de inexistência, ele precisou de um agente externo que lhe pudesse mudar essa condição.
Já, se o universo existe desde sempre, movendo-se de forma contínua, também se faz necessário um agente externo, incorpóreo e, acima de tudo eterno, que sustente a continuidade desse movimento. O que Aristóteles chamou de Primeiro Motor Imóvel, Maimônides deu o nome de Deus.
Questão 7
Leia os textos e responda:
Texto I
“Alfarabi: O Primeiro é aquele de quem procede o ser. Desde que o Primeiro tem o ser que lhe é próprio, segue-se, necessariamente, que todos os outros seres conhecidos por nós, tanto pelos sentidos como pela demonstração, procedem dele [...]. E o ser do que procede do Primeiro vem da efusão de seu próprio ser, e tudo o que é emana de seu ser próprio”.
Texto II
“Plotino: Se, portanto, há um segundo termo depois dele (o Uno), é necessário que exista sem que o Uno se mova, sem que se incline, sem que se queira e, numa palavra, sem movimento algum. De que maneira, então? Uma irradiação que vem dele, dele que fica imóvel, como nasce dele a luz resplandecente que envolve o sol embora esteja sempre imóvel”. (DE LIBERA. A. A Filosofia Medieval. São Paulo: Loyola. 1998).
Tanto Alfarabi quanto Plotino tentam explicar o surgimento dos demais existentes a partir de um ser primordial. Cientes desse aspecto, pode-se concluir que:
A) os textos apontam para soluções diferentes para questão da origem das coisas, pois o primeiro se concentra na ideia de “emanação” e o segundo de “irradiação;
B) ambos os textos têm em comum o processo de “emanação” como forma de explicar como do Uno surge o múltiplo;
C) ambos textos apresentam noções equivocadas, pois não conseguem explicar como de algo primeiro e único surge múltiplos seres;
D) o autor do Texto II copiou as ideias do autor do Texto I, não sendo capaz de esclarecer a questão do surgimento das coisas;
Ambos pensadores (Alfarabi e Plotino) estão explicando como é possível o surgimento da multiplicidade de entes a partir de uma causa primeira (que é única e imóvel), sem que para isso ela precise sofrer modificações ou se diminuir.
Alfarabi (870-950), filósofo muçulmano, pega emprestado a própria concepção de “emanação” que Plotino utiliza em sua obra As Enéadas, por isso, utiliza expressões como: “proceder do ser”, “efusão de seu próprio ser” e “emana de seu ser próprio”.
No texto II, Plotino (filósofo neoplatônico do século III) traz figurativamente a imagem do sol que irradia sua luz, no intuito de apontar para o mesmo processo.
Para estudar mais: Filosofia Medieval: resumo e principais filósofos
Continue testando seus conhecimentos:
Exercícios sobre Filosofia Antiga (com questões explicadas)
Exercícios sobre Filosofia Moderna (com respostas explicadas)
Exercícios de Filosofia (com respostas explicadas).
Referências Bibliográficas
AQUINO, T. Os Sete Pecados Capitais. Tradução de Luiz Jean Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
BORGES, W. S. A Navalha de Ockham: um princípio lógico de parcimônia. Scintilla, Curitiba, v. 19, n. 1, jan./jun. 2022, pp. 129-142.
MAIMONIDES, M. O Guia dos Perplexos, parte II. Tradução de Uri Lam. São Paulo: Landy, 2003.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
VASCONCELLOS, M. Filosofia Medieval: Uma breve introdução. Pelotas: NEPFIL online, 2014.
DE LIBERA, A. A Filosofia Medieval. São Paulo: Loyola. 1998.
REALE, G; ANTISERI, D. História da Filosofia: antiguidade e Idade Média, v. 1. Coleção Filosofia. São Paulo: Paulus, 1990.
AGUENA, Anita. Exercícios sobre filosofia medieval (com gabarito explicado). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-filosofia-medieval-com-gabarito-explicado/. Acesso em: