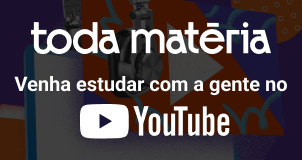A sociologia do Taylorismo
O Taylorismo, também conhecido como Organização Científica do Trabalho (OCT), é um método de organização do trabalho criado pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor (1856–1915). Surgiu no final do século XIX, no contexto da Segunda Revolução Industrial, quando as fábricas cresciam em tamanho e complexidade, exigindo maior produtividade e disciplina.
Do ponto de vista da sociologia, o Taylorismo não é apenas uma técnica de gestão, mas um fenômeno social que transformou profundamente as relações entre trabalhadores, empregadores e até o modo como a sociedade lida com o tempo, a disciplina e a eficiência.
Ao longo do século XX, seus princípios se espalharam para além das fábricas, influenciando a educação, o lazer, o esporte e, mais recentemente, o trabalho digital.
Neste conteúdo você encontra:
- O contexto histórico do Taylorismo
- Os princípios do Taylorismo
- O que é a “Vadiagem sistemática” (soldiering)
- Impactos sociais e resistência operária
- Críticas sociológicas
- O Taylorismo fora da fábrica
- Taylorismo e a sociedade contemporânea
O Taylorismo nasceu como tentativa de organizar o caos das fábricas do século XIX, mas tornou-se um fenômeno social duradouro. Suas práticas de controle e disciplina moldaram não apenas o chão de fábrica, mas também a educação, o lazer e até a cultura digital contemporânea.
Do ponto de vista da sociologia, o Taylorismo revela as contradições do capitalismo industrial e pós-industrial: ao mesmo tempo em que promove eficiência e democratiza o consumo, intensifica a exploração, aliena o trabalhador e reforça hierarquias.
O contexto histórico do Taylorismo
No final do século XIX, os Estados Unidos e a Europa viviam a Segunda Revolução Industrial. Novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, somavam-se ao aço e às máquinas a vapor. As cidades cresciam rapidamente, atraindo imigrantes e ex-camponeses que deixavam as áreas rurais em busca de emprego nas fábricas.
O ambiente fabril era caótico: os trabalhadores mais experientes decidiam como executar suas tarefas, sem padrões claros. Havia desperdício de tempo e materiais, além de frequentes conflitos entre operários e empregadores. É nesse cenário que Taylor propõe aplicar o método científico à organização do trabalho, inspirado por sua experiência em fábricas de aço na Filadélfia, EUA.
Assim nasceu o Taylorismo: um sistema que prometia máxima eficiência ao decompor cada movimento do trabalhador e definir um “único jeito correto” de realizá-lo.
Os princípios do Taylorismo
Taylor sistematizou sua proposta em quatro princípios básicos:
- Estudo científico das tarefas – observar cada movimento, calcular tempos e eliminar gestos supérfluos. O resultado era um manual que prescrevia o “one best way” (o melhor jeito).
- Seleção e treinamento dos trabalhadores – escolher o operário mais apto para cada função e treiná-lo rigorosamente, padronizando o trabalho.
- Separação entre concepção e execução – os engenheiros e administradores planejam, os trabalhadores apenas executam.
- Divisão das responsabilidades – a gerência assume o controle intelectual, cabendo aos operários o esforço físico.
Esses princípios transformaram a fábrica em uma espécie de laboratório social, em que cada trabalhador era uma peça de uma engrenagem maior.

O que é a “Vadiagem sistemática” (soldiering)
Um dos pontos centrais identificados por Taylor foi a prática da chamada vadiagem sistemática (systematic soldiering) pelos trabalhadores. Trata-se de uma estratégia coletiva de reduzir o ritmo de trabalho, seja por preguiça individual, seja, principalmente, por acordos entre colegas de fábrica para não ultrapassar determinados níveis de produção. O objetivo era evitar que aumentos de produtividade resultassem em demissões ou em maior exploração.
Essa prática se tornou um dos principais alvos da chamada “administração científica”, pois, do ponto de vista da gerência, comprometia a eficiência e a lucratividade. Para combatê-la, Taylor defendia a supervisão próxima, a padronização de métodos e o controle rigoroso do tempo e movimento do trabalho.
Autores das ciências humanas como Michel Foucault destacam que o Taylorismo pode ser entendido como uma forma de poder disciplinar aplicada à organização do trabalho. A obsessão de Taylor por medir tempos, padronizar movimentos e eliminar a chamada “vadiagem sistemática” aproxima-se daquilo que Foucault descreveu como vigilância e normatização: mecanismos que tornam os trabalhadores visíveis, avaliáveis e corrigíveis. Assim, a fábrica taylorista não é apenas um espaço de produção de bens, mas também de produção de subjetividades dóceis e úteis, moldadas para obedecer às exigências do capital industrial.
Do ponto de vista da sociologia, o soldiering pode ser entendido não apenas como “preguiça” ou resistência irracional, mas como uma reação coletiva dos trabalhadores diante da exploração capitalista. Em sociedades industriais marcadas pela disciplina fabril e pelo controle do tempo, reduzir o ritmo era uma maneira de retomar poder sobre o próprio trabalho.
Essa prática evidencia que a fábrica não era um espaço neutro, mas um campo de conflito entre classes: de um lado, a gerência buscava extrair o máximo de produtividade; de outro, os operários tentavam estabelecer limites à intensidade do trabalho. Nesse sentido, o soldiering pode ser visto como uma forma de luta de classes no cotidiano, antecipando outras formas de resistência mais organizadas, como greves e sindicatos.
Impactos sociais e resistência operária
Os efeitos sociais do Taylorismo foram profundos:
- Aumento da produtividade – fábricas produziram mais em menos tempo, reduzindo custos.
- Alienação – trabalhadores passaram a executar movimentos repetitivos, sem compreender o processo total da produção.
- Resistência – greves, sabotagens e boicotes eram comuns. Muitos operários reduziam o ritmo ou destruíam máquinas como forma de protesto.
Além disso, sindicatos e intelectuais criticaram o sistema por tratar pessoas como peças substituíveis. Essa crítica ecoa até hoje, quando trabalhadores denunciam condições desumanas em armazéns logísticos ou fábricas globais de eletrônicos.
Críticas sociológicas
As principais críticas sociológicas ao Taylorismo são:
- Desumanização: reduz o trabalhador a um “apêndice da máquina”; é a máquina que dita o ritmo do trabalho.
- Exploração intensificada: aumenta a produtividade sem redistribuir benefícios de forma justa.
- Dominação de classe: concentra o poder nas mãos da gerência, reforçando hierarquias sociais.
- Alienação: retira o sentido do trabalho, transformando-o em mera atividade de sobrevivência.
Defensores, por outro lado, destacam que o método permitiu democratizar o acesso a bens de consumo, barateando preços e expandindo o mercado.
O Taylorismo fora da fábrica
O Taylorismo não ficou restrito às fábricas. Como observa Rago (2007), ele “taylorizou a sociedade”, impondo a lógica da eficiência em vários campos:
- Escola: horários rígidos, disciplinas fragmentadas e avaliação padronizada lembram a lógica taylorista.
- Esporte: treinos baseados em estatísticas, desempenho e recordes.
- Lazer: até o tempo livre passou a ser organizado em rotinas e metas.
- Trabalho digital: aplicativos e smart watches que medem produtividade e monitoram tarefas em tempo real.
Hoje, motoristas de aplicativos, entregadores e até professores são avaliados por métricas de produtividade, revelando a permanência do espírito taylorista.

Taylorismo e a sociedade contemporânea
Na era digital, o Taylorismo renasce sob novas formas:
- Plataformas digitais: algoritmos controlam o ritmo de trabalho de motoristas de aplicativos e entregadores.
- Trabalho remoto: softwares de monitoramento registram cada clique do trabalhador em home office.
- Gig economy: profissionais autônomos vivem sob pressão de prazos e avaliações constantes, lembrando a disciplina taylorista.
Esses exemplos mostram que o Taylorismo não é apenas uma herança do passado, mas um padrão de racionalização que continua a influenciar o trabalho e a vida cotidiana.
Aprofunde os seus estudos:
Taylorismo: entenda o que é e suas características (Geografia)
Questões sobre Taylorismo (com respostas explicadas)
Toyotismo (relações sociais e de trabalho)
Referências Bibliográficas
BÖRNFELT, PO. Taylorism and Fordism. In: Work Organisation in Practice. Palgrave Macmillan, Cham, 2023
CIPOLLA, Francisco P. “Economia Política do Taylorismo, Fordismo e Teamwork”. Revista de Economia Política, v. 23, n. 3, 2003.
EBSCO. Taylorism, Fordism and Post-Fordism. Disponível em: https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/taylorism-fordism-and-post-fordism. Acesso em: set. 2025.
RAGO, Elizabeth. O Que é Taylorismo?. São Paulo: Brasiliense, 2007.
RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais, São Paulo, vol.19 n.35, p.65-79, jul./dez. 2015
A sociologia do Taylorismo. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/a-sociologia-do-taylorismo/. Acesso em: